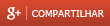Entrevista com António Nóvoa, reitor honorário da Universidade de Lisboa, comenta a reforma curricular do Ensino Médio brasileiro e aponta novos modelos de formação docente
- Publicado em
Muito discurso e pouco compromisso concreto com a melhoria da educação pública. É com essa crítica que o português António Nóvoa, reitor honorário da Universidade de Lisboa e candidato às últimas eleições presidenciais de Portugal, resume sua visão sobre o cenário educacional no Brasil.
Professor convidado em Colúmbia (Estados Unidos), Oxford (Inglaterra) e Paris 5 (França), Nóvoa é hoje uma das principais vozes na área pedagógica e tornou-se uma referência em formação docente ao propor modelos inovadores como uma espécie de residência médica para os professores.
Em São Paulo, onde palestrou no 12ª Prêmio Itaú-Unicef, Nóvoa conversou com Carta Educação sobre esse modelo, a necessidade de compreender a educação pública como compromisso social e criticou os equívocos que sustentam a reforma curricular do Ensino Médio brasileiro. “O melhor da escola pública está em contrariar destinos. Podemos ser amanhã uma coisa diferente de que somos hoje. Uma escola que confirma destinos, que transforma em operário o filho do operário, é a pior escola do mundo”, resume.
Carta Educação: O senhor cobra uma maior participação da sociedade na educação tendo, inclusive, formulado o conceito de espaço público da educação. Como vê esse cenário de sinergia no Brasil?
António Nóvoa: Nós temos um discurso muito gongórico, excessivo sobre a importância da educação, quando as condições básicas não estão sequer asseguradas. Portanto, a primeira coisa que a sociedade brasileira precisa fazer coletivamente, independentemente de partidos e políticos, é garantir essas condições básicas de funcionamento para as escolas, que incluem as condições para o exercício do trabalho dos professores. Se não fizer isso, todo o resto é conversa, coisas para ilustrar a mídia, mas que não têm nenhum impacto. Não conseguimos mudar a educação se isso não for um desígnio coletivo da sociedade. Não pode ser um problema dos professores ou dos pais ou dos pedagogos ou do partido A ou do partido B. No Brasil, vejo que há muita conversa, muito discurso, mas pouco compromisso concreto com a educação pública brasileira. Há pouca indignação e, se eu fosse brasileiro, estaria indignado com a situação da educação pública.
CE: Essa falta de indignação não está relacionada ao fato das classes mais abastadas no Brasil matricularem seus filhos na escola privada, isto é, da educação pública ser um “problema” das classes mais pobres?
AN: Com certeza. Para quem vem de fora e olha para o Brasil, esse continua a ser o problema maior, o da desigualdade. É um raciocínio de vistas estreitas, de quem não percebe que não resolvemos nossos problemas se não resolvermos o problema dos outros. E as elites brasileiras são muito separadas do compromisso social. Fazem umas coisinhas filantrópicas para se justificarem, para fazerem de conta, mas não têm compromisso social nenhum. Enquanto não houver uma consciência coletiva de que o problema é de todos, o Brasil não avançará do ponto de vista da educação pública. Em Portugal, desde a revolução de 74, houve uma espécie de compromisso do país com a escola pública. Demorou 40 anos para isso acontecer, mas hoje estamos nos indicadores educacionais acima de países que investiram em educação quando éramos o último da Europa. Vejamos o Pisa, por exemplo, que é um indicador que eu não gosto muito, mas que serve para ilustrar. O Pisa tem dois indicadores: um do qual se fala muito que é classificação dos países, o ranking de qualidade, e outro do qual não se fala quase nada, que é o indicador de equidade, isto é, os países que possuem menos desigualdades educacionais. Portugal vai bem no ranking da classificação, mas, sobretudo, vai melhor no ranking da equidade. E é isso que torna um país melhor. Enquanto continuar cada um tratando de si, da escola dos seus filhos, dos seus problemas, o Brasil estará caminhando para um precipício.
CE: O senhor diz que o papel do professor é ajudar o aluno a transformar informação em conhecimento e que o bom profissional é aquele capaz de conseguir com que, no fim, o aluno goste daquilo que não gostava. Como formar o docente para esses papéis?
AN: Há um escritor português, Gonçalo M. Tavares, um dos mais brilhantes da nova geração, que utiliza uma metáfora muito interessante: “nós somos as imagens que temos”. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que vemos na vida compõe o que somos. Vou explicar de outra maneira. Ontem, estava aqui em São Paulo e liguei a televisão. Mudando de canais, vi aquelas imagens, músicas, telejornais horríveis e pensei que ninguém pode se educar se sua vida é aquilo, aquele imaginário paupérrimo. Os professores precisam alargar o seu repertório cultural, terem contato com mais realidades para serem capazes de passar isso para os seus alunos. Ninguém pode gostar daquilo que não conhece. Se eu não fizer um esforço para conhecer as regras do xadrez, eu não posso gostar de xadrez. Uma pessoa que não lê muito, que para ler um texto fica quase a juntar as letras, dificilmente gostará de leitura. Enquanto as crianças tiverem as imagens diárias que têm será muito difícil subir o nível da educação. E isso é verdade para professores e para crianças. Só se pode gostar depois de se conhecer muito. As crianças fazem isso com os jogos de informática: treinam muito até ganharem proficiência e, a partir desse momento, começam a ter prazer. É preciso fazer a mesma coisa com leitura, matemática, história e biologia. E esse é o trabalho do professor. Agora, para que o professor faça esse trabalho, ele próprio precisa alargar o seu repertório de imagens.
CE: Esse parece ser um caminho individual de aperfeiçoamento. Mas no campo da qualificação formal, o que as universidades poderiam fazer? O senhor já propôs um esquema semelhante à residência médica para que os docentes aprendessem a ensinar com outros mais experientes.
AN: Primeiramente, é preciso ter um lugar para formar os professores nas universidades de forma unificada. Estou a dar apoio ao reitor da UFRJ, no Rio de Janeiro, para tentar construir uma coisa que ele designa de “complexo de formação de professores”, um lugar onde o professor terá sua formação completa. Sobre o esquema de residência, na formação médica na Universidade de Harvard, por exemplo, nos primeiros dias do curso, há uma cerimônia na qual os médicos dos hospitais trazem jalecos e vestem os jovens estudantes de medicina. Quando fazem isso estão a dizer “a tua formação agora é de nossa responsabilidade, nós agora vamos te conduzir pelos caminhos da profissão”. E isso vai ajudando a criar uma rotina, um saber profissional que não é apenas da prática, é um conhecimento que vai sendo construído na relação entre profissionais mais experientes e jovens estudantes. É isso que é preciso na formação do professor, que os jovens das licenciaturas tenham contato com os professores mais antigos, mais experientes, com professores das faculdades, das universidades. O ideal seria que quando acabassem a licenciatura fossem para as escolas acompanhados, em uma espécie de residência docente para que, progressivamente, fossem adquirindo a autonomia profissional.
CE: Qual sua opinião sobre a reforma curricular que foi feita no Ensino Médio no Brasil que inclui o agrupamento por áreas do conhecimento, maior foco no ensino técnico, permissão para que pessoas com “notório saber” possam dar aulas, entre outros pontos?
AN: O mundo inteiro é um cemitério de reformas; reformas curriculares então nem se fala. É muito fácil fazê-las, o mais difícil é aquilo que falamos no princípio: dar as coisas básicas e simples, as condições de funcionamento para escolas, professores. Isso dito, o Ensino Médio foi um problema no mundo todo 20 anos atrás, período em que os países passaram a educação obrigatória para o final da etapa. Nesse sentido, o Brasil está bastante defasado. No que diz respeito à diminuição do currículo, sou sensível ao argumento. Acho que as escolas têm muitas coisas para ensinar. Desde o século XIX, ninguém tirou nada da escola, só meteu mais conteúdo. Sou também sensível a um segundo ponto que está na retórica da reforma que é a ideia dos percursos formativos. São argumentos importantes no sentido de tornar mais coerente o currículo e, por outro lado, permitir uma certa diferenciação da trajetória de cada. O problema dessas duas retóricas é que elas conduzem para três coisas que não estou de acordo e que, para mim, são as coisas que estão a acontecer no Brasil.
CE: Quais são elas?
AN: A primeira coisa é que quando se fala em diminuição do currículo não pode ser sinônimo da velha ideologia do back to basics, isto é, de voltar aos fundamentos, dar só matemática e português. Tornar os currículos mais simples trata-se de conseguir que, em cada uma das matérias, se valorize a dimensão das linguagens e não a dimensão dos conteúdos. Isto é, que nós tenhamos os instrumentos para ascender ao conhecimento. Os conteúdos estão todos disponíveis na internet, em todo lado, logo, o que é preciso adquirir é a linguagem matemática, científica, da escrita, artística, corporal. Ora, o que está a acontecer no Brasil agora é o back to basics. Há um livro agora muito famoso no Brasil chamado Sapiens, do israelense Yuval Harari, no qual ele diz que hoje temos máquinas de aprendizagem que podem fazer coisas muito mais inteligentes que os humanos. Então, pela primeira vez na história, a inteligência não está só do lado dos humanos. Logo, qual é a última fronteira da humanidade? É a consciência, algo que não pode ser substituído por nenhuma máquina. E a dimensão da consciência precisa estar presente no currículo, por isso, não podemos esquecer da história, da sociologia, da filosofia, tudo que nos dá essa outra dimensão.
Minha segunda crítica é a ideia da formação profissional. Há 20 anos também se falava muito sobre isso e deixou-se de falar por várias razões, mas há algumas óbvias. A expectativa de vida das pessoas está a aumentar exponencialmente. Hoje, estamos a aprender a conviver com quatro gerações ocupando o mesmo espaço – bisavós, avós, pais e filhos. Isso tem de significante que a entrada na vida adulta vai ser cada vez mais tardia. Há um século, a expectativa média de vida era 40 anos, logo, a entrada na vida do trabalho tinha que ser aos 14, 15. Hoje, a média é 80 anos, então a entrada na vida adulta se faz mais tarde, inevitavelmente. Portanto, falar de uma formação técnica ou tentar que, hoje, uma pessoa com 14 anos tenha uma relação com o mundo do trabalho não faz nenhum sentido. Não é essa a evolução da sociedade: nós queremos pessoas que saibam pensar. Que saibam trabalhar também, com certeza, mas não é aquela visão que tínhamos antigamente da formação técnica, do operário. Nos próximos 20 anos, cerca de 30%, 40% dos trabalhos vão ser feitos pela tecnologia. Portanto, manter hoje essa formação técnica é uma ideia de discriminação social sobre os pobres. Os percursos formativos, na prática, mantêm a tradição de que os pobres servem para ser operários e os ricos, doutores. É o que chamamos de novo vocacionalismo. Agora o melhor da escola pública está em contrariar destinos. Podemos ser amanhã uma coisa diferente de que somos hoje. Uma escola que confirma destinos, que transforma em operário o filho do operário, é a pior escola do mundo.
CE: E qual sua opinião sobre a adoção do “notório saber“?
AN: O programa Teachers For America, do George Bush, que recrutava pessoas de notório saber para serem professores foi um desastre porque, obviamente, ser professor não é ter notório saber em uma matéria, é muito mais complexo que isso. Tem uma dimensão social, pedagógica, cultural muito mais ampla. Aliás, há um equívoco enorme que é o de achar que a missão de um professor de matemática é ensinar matemática. Não é. A missão de um professor de matemática é formar uma criança através da matemática, o que é completamente diferente. Porque não se pode ser cidadão sem saber matemática. A cidadania implica saber matemática, português, história. Ora, não é por termos notório saber em química que seremos bons professores dessa disciplina. Isso é acabar com a alma, com a identidade da profissão.
CE: O senhor foi candidato independente às eleições presidenciais de Portugal de 2016. Como foi a experiência?
AN: Foi uma experiência extraordinária porque eu não tinha vida política, nunca pertenci a nenhum partido, mas sempre estive envolvido em causas sociais. Militei quando era estudante contra a ditadura e sempre estive do lado da liberdade de pensamento, de crítica, de discordar dos outros. Por volta de 2013, Portugal vivia um momento horrível, com políticas de austeridade absurdas e um neoliberalismo cego que colocaram o país em uma situação dramática. A essa altura, era preciso dar um murro na mesa, dizer um basta. Como participei de grandes manifestações contra a austeridade e tinha acabado de ser reitor da universidade, isso me deu uma grande visibilidade. Como dizia Martin Luther King sobre o caráter das pessoas não se mostrar nos tempos fáceis, mas nos tempos difíceis, entendi que precisava tomar uma posição. E concorrer foi uma experiência extraordinária pela mobilização que trouxe das pessoas e pelo resultado. Estive a 1% ou 2% de passar ao segundo turno e se passasse acho que ganhava. Foi a primeira vez que um candidato independente teve uma candidatura com envergadura e isso para a política de Portugal foi muito positivo e trouxe uma renovação. O que está a acontecer em Portugal agora é boa parte do que defendi em minha candidatura.
CE: O senhor cogitaria concorrer mais uma vez?
AN: Se o país continuar tal como está, não tenho nenhuma vontade porque acho que está muito bom. Nesse momento, apoio o trabalho do atual presidente da república [Marcelo Rebelo de Sousa]. Mas se o país entrar em uma situação difícil novamente, voltamos ao Martin Luther King e eu, como um homem de caráter, preciso me apresentar. Os portugueses sabem que podem contar comigo que eu estarei lá de novo.